De chimpanzés a abelhas, a ciência revela que a metacognição não é património exclusivo do ser humano Estamos em 2005, em Bethesda, um subúrbio a noroeste de Washington D. C. Lá, num Laboratório de Neurofisiologia, está prestes a ocorrer uma serendipia: uma descoberta inesperada que surge por acaso. Um macaco rhesus macho de seis anos participa num teste cognitivo conhecido como matching-to-sample, concebido para avaliar a memória. O procedimento é simples: uma imagem aparece no ecrã tátil e o animal deve tocar nela duas vezes para continuar. Em seguida, o ecrã fica em branco durante um intervalo variável — 0, 2, 4, 8, 16 ou 32 segundos. Depois, quatro imagens são exibidas nos cantos e o macaco deve escolher aquela que corresponde à que viu no início. Só se acertar é que recebe a sua recompensa.
O macaco conhece o protocolo de cor e salteado. Como animal de laboratório, há anos que enfrenta testes cognitivos e acumula dezenas de milhares de ensaios. No entanto, nesta ocasião, começa a comportar-se de forma estranha: ao selecionar as imagens, há vezes em que, em vez de tocar suavemente no ecrã, começa a bater com força. Em seguida, a resposta falha. Poderíamos dizer que, assim como Sócrates, o macaco sabe que não sabe? Isso já aconteceu com todos nós. Estamos a conduzir para um lugar desconhecido, convencidos de que nos lembramos bem do caminho. Mas, de repente, surge um cruzamento e ficamos em dúvida. Com carros colados atrás, não podemos parar para pensar. Obrigados a decidir sem informações suficientes, a frustração nos invade… e talvez acabemos batendo no volante.
Essas emoções surgem porque somos capazes de avaliar as nossas próprias capacidades cognitivas e antecipar se uma resposta será correta ou não. É o que se conhece como metacognição, uma faculdade que durante muito tempo foi considerada exclusiva do ser humano. No entanto, graças a macacos que batem em telas de computador — e a mais de quarenta anos de investigação — hoje sabemos que não somos os únicos a possuir essa habilidade.
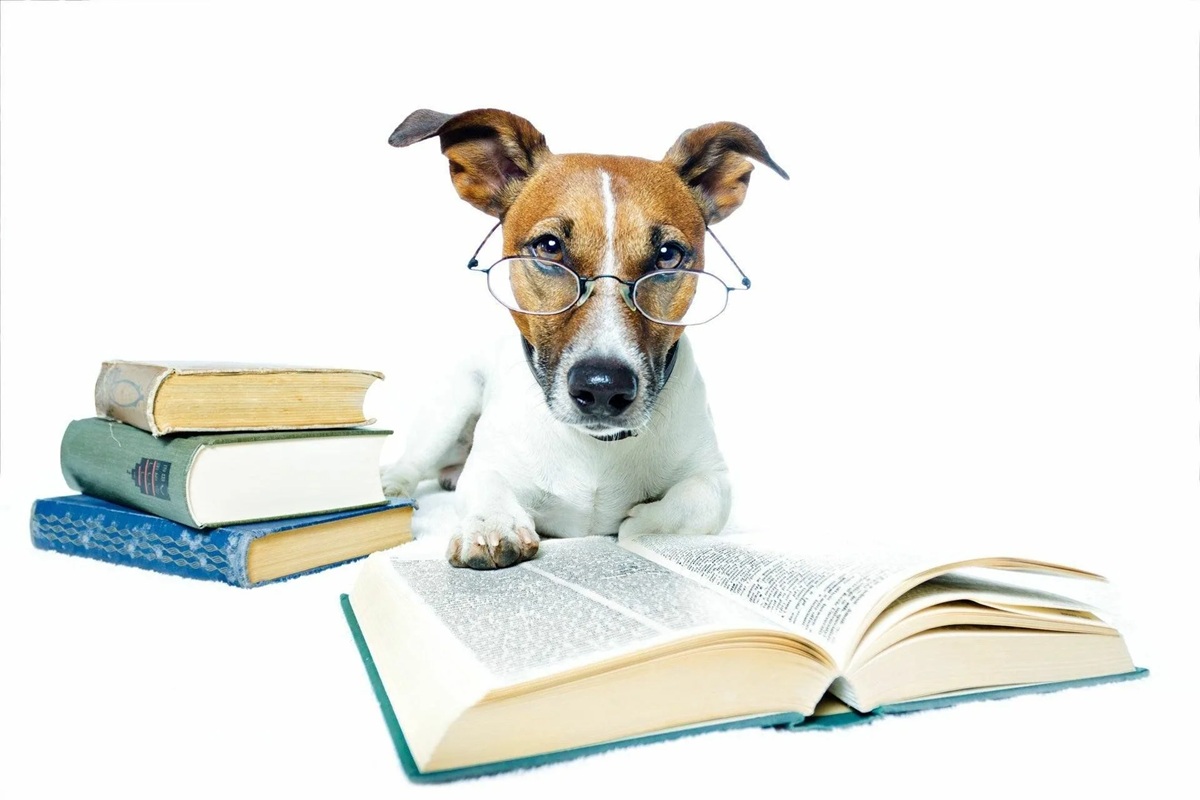
O primeiro indício de metacognição em animais veio de uma chimpanzé no final dos anos setenta. Ela se chamava Sarah e passou grande parte de sua vida no Laboratório de Primatas da Universidade da Pensilvânia. Foi um dos grandes «casos históricos» da investigação cognitiva: ela foi treinada para se comunicar com humanos por meio de símbolos e resolver problemas complexos. Em alguns testes, quando não sabia a resposta, ela ficava a olhar fixamente para as fichas, um gesto que muitos investigadores interpretaram como um sinal de que ela estava a pensar.
Uma das experiências mais famosas consistia no seguinte: Sarah tinha de escolher entre dois recipientes opacos. Num deles havia uma recompensa melhor do que no outro. Antes de decidir, ela podia «espiar» dentro de um dos recipientes para verificar o que continha. O revelador é que ela só fazia isso quando não tinha a certeza de qual oferecia a melhor recompensa. Ou seja, ela não espreitava sempre, mas de forma estratégica, em situações de incerteza.
Esse estudo foi considerado pioneiro no campo da metacognição porque sugeria que Sarah usava uma espécie de monitorização interna do seu próprio conhecimento: ela sabia quando não sabia e agia em conformidade para reduzir a incerteza. No entanto, descobertas desse calibre raramente estão isentas de controvérsia. Não demorou muito para que se abrisse um intenso debate sobre quais comportamentos podemos realmente atribuir à metacognição e quais poderiam ser explicados de outra forma.
Com o tempo, cientistas e filósofos distinguiram dois tipos de metacognição: a declarativa e a procedural. A primeira aparece quando somos capazes de refletir explicitamente sobre o que sabemos e expressá-lo em palavras. Requer linguagem e consciência conceitual, como quando, antes de um exame, você pensa “eu me dou bem com os tópicos 1 e 2, mas não entendo o 3”.
A metacognição processual, por outro lado, não precisa de linguagem nem conceitos elaborados. Ela se manifesta como sensações internas que orientam o nosso comportamento. Por exemplo, ao fazer um crucigrama e sentir que a palavra está «na ponta da língua», ou quando hesita em responder a uma pergunta e decide confirmá-la no ChatGPT. Essa é a forma de metacognição que os investigadores começaram a avaliar em animais não humanos.
Uma das experiências mais comuns é o paradigma opt-out, também chamado de “paradigma de escolha de rejeição”. Consiste em apresentar aos animais uma tarefa que pode ser fácil ou difícil. Eles têm duas opções: tentar resolvê-la — e receber uma grande recompensa se acertarem ou uma penalidade se falharem — ou desistir e obter uma recompensa menor, mas segura.

A metacognição é inferida quando o indivíduo usa a opção de rejeição de forma estratégica. Em outras palavras: nos testes mais difíceis, o animal tende a desistir com mais frequência. Com isso, ele estaria comunicando sua falta de confiança em seu próprio conhecimento, uma espécie de introspecção cognitiva. Grandes primatas, golfinhos, ratos e até abelhas passaram neste teste, enquanto espécies como raposas ou pombos falharam.
No entanto, nem todos os investigadores aceitam que esses comportamentos sejam prova de metacognição. Argumentam que podem ser explicados por mecanismos mais simples, como a aprendizagem associativa: diante de uma tarefa difícil, os animais escolhem a opção de fugir porque é a que tem sido reforçada nesses casos.
Nos últimos anos, a comunidade científica refinou os experimentos para descartar explicações alternativas, e hoje existe um consenso razoável: pelo menos algumas espécies de grandes símios e macacos possuem um certo grau de metacognição procedural. Em 2022, um estudo publicado na Nature foi além e identificou em macacos a área cerebral envolvida nessa capacidade.
A experiência consistia numa tarefa de memória. Primeiro, era mostrado um ponto num canto do ecrã. Depois de desaparecer e passar um breve intervalo, apareciam dois pontos, um deles no mesmo local. O macaco devia indicar o local que se repetia tocando no ecrã. Imediatamente depois, eram oferecidas duas opções que representavam o seu nível de confiança na resposta: se escolhesse «alta confiança» e acertasse, recebia uma grande recompensa, mas se errasse era penalizado. Por outro lado, com a opção «baixa confiança» recebia sempre uma recompensa intermédia.
Os resultados foram reveladores. Os macacos costumavam escolher a opção de baixa confiança nos ensaios em que erravam. Mas quando os investigadores aplicaram estimulação magnética transcraniana para inibir temporariamente uma área do lobo pré-frontal conhecida como BA46d, algo mudou: a sua memória visual continuava intacta, mas perderam a capacidade de a avaliar. A partir de então, eles escolhiam entre alta e baixa confiança de forma aleatória.
A verdade é que ainda sabemos muito pouco sobre como a metacognição funciona em outros animais, já que a grande maioria dos estudos se concentrou nas mesmas espécies de primatas. Por isso, ainda não podemos responder em que contextos e por que essa capacidade evolui, mas pelo menos já sabemos que há outros animais que também têm consciência do que sabem.









